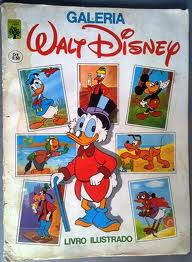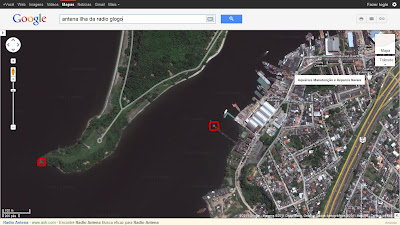Devem estar pensando que sanguessugas são pessoas que gostam
de aproveitar e abusar das pessoas boas, né? Mas não, erraram. Estou falando dos
bichinhos gosmentos e pretos que grudam na pele quando damos o mole de tomarmos
banho onde eles estão e, conforme ela vai sugando nosso sangue, vai crescendo,
crescendo, crescendo, como se fosse uma bexiga de ar, mas com sangue. Quando
moleques nós criávamos muitos bichos, o que pintasse estávamos criando, até
pintos (hehe). Meu pai adorava papagaios e micos e sempre tínhamos um deles ou ambos
em casa. Micos são terríveis, tem uns dentes que parecem navalhas e era só dar
mole e lá ia um pedaço do dedo; papagaio era diferente, esmagava o dedo. O bico
de um papagaio e capaz de quebrar pedra e quando ele pegava nosso dedo...! Só a
graça! Não soltava de jeito nenhum, apertava até furar e sair sangue. Um dos
meus irmãos tinha uma grande criação de ratos, isso mesmo, ratos, dos brancos.
Aquilo multiplicava igual a ratos (rs) e nem sei o que ele fazia com aquele
monte de ratos. Tinha outro que adorava cachorros, que ele mandava lamber suas
perebas das pernas (tínhamos muitas perebas). Imagine, né? E se pegasse raiva?
Tô falando do cachorro, coitado! (rs). Lembro uma cadela gordinha que ele usava
para esses fins, chamava-se bolinha, mas ele tinha muitos outros. Uma vez, outro
irmão, (estou falando de um terceiro diferente, tá? Tenha oito!) trouxe de SP um dobermann.
Era preto e eu que cuidava dele quando ele não estava. Eu levava feijão com
leite, misturados. Nunca entendi porque aquele animal comia aquilo e também levava
angu ou canjiquinha. Nessa época não se falava em ração, cachorro comia nossa
comida mesmo. Esse cachorro mordeu um monte de amigos meus e também minha irmã, sempre na altura
do pescoço, o bicho era predador, queria a jugular. Nesse mundo animal tinha
pena da minha mãe, coitada, mas ela também tinha seus bichos, eram os patos e
as galinhas do vizinho. Nossa casa não tinha quintal e ela tirava uma casquinha
dos animais do vizinho. Ela adorava aqueles animais e sempre cuidava deles,
dando comida e acompanhando seu dia a dia, seus filhotes quando nasciam etc;
até minha filha deu comida para esses patos, chegava e papai já lhe dava um
grande pão molhado para ela dar para eles. Eu criava preás. Preá é como um rato
grande e também se multiplicava como ele. Comecei com um casal e em pouco tempo
tinha vinte e cheguei a ter mais de sessenta. Elas tinham de comer e para isso
eu tinha de colher capim nos terrenos baldios da minha vizinhança. Era muito
chato fazer isso, mas quem mandou ter preás, né? Quando eles começavam a
gritar, minha mãe dizia: “tem de ir pegar capim para os bichos!” e lá ia eu. O
capim que elas gostavam era um que cresciam em lugares pantanosos e haviam
muitos onde hoje é o marimbondo, um “lindo” bairro da minha cidade (onde eu
moro). Esses terrenos pantanosos eram interessantes, pois criavam uma camada,
como se fosse um tapete, em cima da água, e nós andávamos nesse capim
tapete, que era mole e se mexia quando passeávamos nele. Um dia fui
colher meu capim e estava num desses lugares moles, quando minha perna afundou
na agua. A principio não me incomodei e continuei cortando meu capim e, quando
concluí minha colheita, saí do terreno e fui amarrar meu fardo de capim para
levar para minha preás, quando tive a surpresa: preso em minhas pernas haviam
umas vinte sanguessugas grudadas e chupando meu sangue. Já tiraram sanguessuga
da pele? Pois é, não puxar se não ela pode arrebentar. Você tem de tira-las
cuidadosamente, passando uma folha entre a pele e ela até soltar o ferrão.
Fiquei mais de uma hora tirando sanguessuga das minhas pernas. Devem ter sugado
um litro do meu sangue.
Meus filhos têm curiosidade de conhecer as histórias que meu pai contava e eu tento contar uma ou outra, mas percebo que não é a mesma coisa. Assim, a pedidos, resolvi registrar algumas situações vividas nesse meio século de vida. Quem sabe um dos meus netos não queiram conhecer, né?
17 dezembro 2011
06 dezembro 2011
Short Story XX - Capitão
Bem, falar da minha mãe é fácil e esse post irá recordar uma
das suas interessantes facetas. Minha mãe era especial e esse “especial” era o
que ela era, não apenas o que representava. Sei que todas as mães são especiais,
nem tenho a pretensão de compara-la, mas essa era diferente, sempre tinha uma
palavra ou um conselho com profunda simplicidade (ou simplicidade profunda), que clareava uma situação que
se vivia e ajudava a vencer momentos difíceis. Tinha suas frases ou provérbios,
como: “o coração é meu, pode sofrer; o rosto é do próximo, tem de sorrir”,
“cheguei até aqui, termino de chegar”, “não tem tu, vai tu mesmo”, “buscai ao
Senhor enquanto se pode achar”, “ruim com ele, pior sem ele” e assim ia, eram
muitas e muitas, mas hoje não vamos falar disso e sim sobre “arte culinária”, quero
dizer, uma refeição (se é que posso chamar desse nome) que ela fazia para nós
crianças e era o manjar dos deuses, uma grande festa. Eu achava muito, muito
bom e adorava quando ela preparava para nós, mas hoje eu entendo que era
gostoso porque ela estava com a gente, fazendo e nos dando para comer ou na mão
ou diretamente na boca e não uma comida elaborada. O nome dessa iguaria? Capitão.
Para os que não tiveram a oportunidade de viver essa época ou saboreá-lo, vou tentar
explicar. Primeiramente não sei a origem desse nome, até hoje não entendo
porque se chamava assim, e acho que era preparado com as sobras de comidas que
havia na cozinha na hora. Misturava-se o que havia tipo, arroz, feijão, carne,
farinha (realmente não faço ideia do que havia nesse prato, lembro do sabor e
do momento) e era uma delícia. Era preparado e oferecido por ela, como já
disse, na mão (tipo os indianos), não havia talheres, fazíamos uma rodinha e
ela ia preparando os bolinhos e oferecendo para gente. Diria que era o formato
do sushi da culinária japonesa, mas sem a cobertura de peixe ou algas, só o
bolinho. Era uma festa, aquela turma toda saboreando aquele alimento que só ela
sabia fazer. Tenho certeza de que quem teve a oportunidade de comer adorava
(não sei se algum neto provou). Hoje nosso mundo evoluiu e é tudo muito
asséptico, limpo, lavado, quando criança, não. Acho que por isso ninguém ficava
doente à toa, tínhamos muitos anticorpos.
02 dezembro 2011
Short Story XIX - Parati
 |
| O Cachadaço (piscina natural), em Trindade, Parati. |
A família da minha esposa tem uma ligação forte com o sul do
Estado do Rio: Ilha Grande, Angra, Parati e Ubatuba, SP, pois são originários
dessas bandas e, de vez em quando, vamos visita-los e ver como estão indo. Até
aí tudo bem, gosto do lugar e mais ainda das pessoas que vamos ver, o problema
é a viagem. Não há uma vez que façamos essa viagem que não ocorra um problema e sério. Uma vez nós enguiçamos, de madrugada, em plena Rio Santos (quem
conhece pode imaginar). Foi terrível! Estava com minha sogra e crianças
pequenas e ficamos com um carro novo, enguiçado, nas trevas da rodovia. Com
muita dificuldade conseguimos chegar a uma localidade e fomos procurar um lugar
para pernoitar e nada! Tudo cheio e a família teve de passar a noite de favor na varanda de
uma pousada, esperando o dia amanhecer e eu na porta duma oficina para tentar
consertar o carro. Claro que se o mecânico conseguisse conserta-lo não seria uma boa história,
o mecânico da região simplesmente não conseguiu encontrar o defeito e precisei
reboca-lo para casa e a família voltou de ônibus. Numa outra vez íamos
tranquilos, estava estranhando, quando, do nada, simplesmente a roda dum
ônibus, que vinha em nossa direção se soltou. Conseguem imaginar? Era a roda
traseira, aquela que tem dois pneus conjugados, passando a centímetros do nosso
carro. Foi terrível 2! Tem mais, numa outra viagem foi um motociclista,
coitado, que não tinha nada a ver com minha sina, mas que vinha em sentido
contrário ao nosso. Eu “tentava” ultrapassar um caminhão nas estreitas e cheias
de curvas, ♪ Estrada de Santos ♫ (Roberto Carlos), mas o motor não tinha
potência pra concluir a ultrapassagem e eu via vir a moto em minha direção. O
que pude fazer foi piscar o farol para ele, tentando mostrar que eu não tinha
como sair da onde eu estava, e assim ele desviar de mim. O coitado não
entendeu, ou vinha muito rápido, e só pode afastar um pouco para a esquerda e
passar a centímetros do meu carro. Foi horrível 3! Passei o resto da viagem
imaginando se eu tivesse colidido com o mesmo, seria morte dos dois ocupantes e
mais estragos em quem estava comigo. E assim vai, sempre acontece algo, tem a
vez que um pneu dianteiro estourou a 100 km/h (primeira e única vez que isso
ocorreu comigo), ou a vez que o carro se recusou a subir uma ladeira, obrigando
à bisavó da minha esposa soltar e subir o morro à pé, tem a vez que eu
“decolei” da pista, voando e quicando no canteiro central, quebrando minhas
quatro rodas de liga (agradeço sempre a Deus por mais esse livramento), tem a
vez que minha esposa perdeu R$ 1.500 nos radares, tem a vez que o carro não
queria subir o “Deus me livre!”(“pequena ladeira” da localidade), tenho até
medo quando penso que vou para lá, pois sempre acontece alguma coisa nada boa.
A última foi com a minha filha. Foi só sair de lá para virmos embora e ela começou
a passar mal, mas não foi uma indisposiçãozinha, realmente ela passou muito,
muito mal. Acho que paramos umas 14 vezes até conseguir chegar, numa viagem que
demorou muitas mais horas além da prevista. Ela veio mal de Parati até o Rio,
quase vomitou as estranhas, viu a morte, muito difícil. Foi terrível 4!
Passarei esse natal lá, depois conto essa outra história.
30 novembro 2011
Short Story XVIII - Trem
Perto de minha casa havia uma linha de trem. Hoje foi tudo
destruído e algumas partes ocupadas por barracos, virando uma comprida favela em forma de
charuto. Dizem que vão construir um metrô nesse espaço, mas acho que vou morrer
sem ver, quem sabe meus netos. Mas quando criança nós usávamos esse trem para
nos locomover de verdade. Eram trens como os dos filmes do velho oeste, revestidos
de madeira, bancos que virava o encosto e com aquela varandinha entre os
vagões, onde, nos filmes, os bandidos subiam, vindo dos cavalos a galope. Uma vez
nós fomos a uma localidade e eu e a molecada vínhamos pendurados nas escadas
dessa citada sacada, aproveitando a vista e o ar fresco. Eu passava o pé na
vegetação que passava rente ao trem, era divertido. Estava eu nessa
brincadeira quando alguém me chamou e eu me virei para atender, quando vi
passar colado ao trem uma mureta de concreto duma ponte enorme. Se eu não tivesse sido
chamada teria “chutado” aquele concreto, ocultado pelo mato e talvez até caído
do trem. Depois do susto parei com a brincadeira e pouco tempo depois veio uma
pessoa carregada do vagão que estava atrás do meu e perguntei: “que houve?” E
ele respondeu, “chutei a mureta duma ponte”. Coitado, quebrou o pé (como diz o
ditado, “antes ele do que eu” hehe). Mas a história de hoje é sobre as caronas
que pegávamos nesse velho trem. Como já contei, meu pai era pastor e sempre
estávamos na igreja, fazendo bagunça, claro, e esse trem passava em frente da
onde ficávamos e onde havia uma estação. Havia um horário à noite, por volta das 20
horas, e sempre íamos pegar uma carona nele. Na verdade nem era carona, o que fazíamos era ficar agarrados
nos estribos, pendurados e quando a velocidade ia aumentando nós soltávamos. Coisa boba de
crianças, que adorávamos fazer. Um dia fui eu estava na minha carona, mas outros
moleques estavam agarrados com eu não me deram condições de soltar a tempo e o trem foi
aumentando a velocidade, ficando então impossível pular, quando fui agarrado
pelos colarinhos e puxado para dentro do trem: era o fiscal. Fiscal era como um
cobrador. Tinha um alicate na mão e ia furando as passagens dos pagantes e ele
falou: “passagem”. Que passagem? Não tinha passagem nenhuma, então ele disse, “então
vamos para a estação terminal e vai ser levado para o Juizado de Menores”.
Juizado de Menores era o nosso terror. Nossa mãe dizia que eles arrancavam as unhas
das crianças com alicates, batiam, sufocavam e torturavam. Tinha pavor de
passar em frente a um e lá estava eu sendo levado pro "inferno", pensei eu. O
homem rude não me largava, sentamos e ele continuava me segurando firmemente,
até que o trem parou na próxima estação. Quando o trem começou a se mover eu
falei para ele: “posso ir ao banheiro fazer xixi?” e ele respondeu, “certo, mas
vou com você” e veio me seguindo e ficou me olhando pela porta aberta. Os
banheiros de trem dessa época eram interessantes, na verdade era um vaso
sanitário com um buraco embaixo e os números 1 e 2 caiam direto na linha férrea
(estranho, não? Ainda bem que o mundo evoluiu). Mas voltando, o trem se movia e
vi a janela do banheiro aberta, não pensei duas vezes, me joguei pela janela,
saltando do trem em movimento e já caí com as pernas correndo (igual a dos
personagens dos desenhos animado). Quando bati no chão já saí correndo como um
desesperado e me afastando rapidamente do trem (o que o medo não faz, me joguei
de uns 3 metros de altura e caí em pé e já correndo!). Já longe olhei para o trem
e vi o cobrador fazendo sinais “educados” para mim e me “elogiando” com lindas imprecações. Nunca mais
peguei carona. Voltei à pé e fui recebido como “amor e carinho” pela molecada.
Naquela época não tinha esse negócio de bullying, respeito, e mundo
politicamente correto: o pau cantava mesmo. A molecada me descascou, sofri.
24 novembro 2011
Short Story XVII - Coleções
Bem, nessas histórias comemorativas do meu meio século de vida, não
poderia deixar de contar uma faceta dos meus tempos de infância: coleções.
Quando moleque eu tinha coleção de tudo, hoje quase não vemos mais esse hábito
junto às crianças, comum na era sem TV, sem Games, sem Internet, sem Facebook, sem MSN
etc. Começarei pela mais nobre das minhas coleções: Selos. Ainda tenho uma
grande coleção de selos e daqui a uns 200 anos vão valer uma grana (meus tataranetos
quem dirão). Era dura a minha vida de colecionador de selos, porque muitos deles
precisavam ser comprados. Para quem não é do ramo vou explicar. Existem dois
tipos de selos, os comemorativos e os ordinários. Os ordinários são aqueles
apenas com um valor impresso e servem mesmo para enviar cartas, de pouco valor para se colecionar,
e os comemorativos, como diz o nome, era para comemorar ou lembrar alguém ou um fato histórico e esses podem valer mais, se for raro. Tenho coleções
completas de selos de vários anos, sempre uma unidade de cada, que eu comprava
na agência filatélica dos correios em Niterói. O correto é colecionar o que é chamado quadra, ou quatro selos agrupados, mas eu só podia comprar um e olhe
lá (tinha uns que eram muito, muito caros para mim). Eu também tinha coleção de tampas
metálicas de garrafa de refrigerante (hoje quase não tem tampa assim). Eram
tampas de metal com figuras estampadas na parte de dentro e que iam para um
álbum até ser completado. Também colecionava figurinhas de chicletes, que também
tinha um álbum com muitas páginas, muito legal, e tinha as coleções que só eu
tinha, como a de lápis, isso mesmo, lápis. Cheguei a ter mais de 200 tipos
diferentes de lápis. Colecionava borrachas escolares, essas eram mais raras, coleção de
perfumes, na verdade vidros vazios de perfumes, coleção de cartões postais
(tinha uma pilha enorme), coleção de moedas antigas (no passado a série de
moedas duravam uns três anos, assim era fácil ter moedas do Brasil “antigas”:
Réis, Cruzeiro, Cruzeiro Novo, etc), coleção de papéis de carta, coleção de
bolas de gude (as coloridas chamávamos de “corinho”, seriam hoje os olhos de
gatos), fichas de ônibus (as passagens tinham diversos valores, de acordo com o
percurso, e eram dadas como recibo fichas de plástico coloridas que nós desviávamos dos ônibus), gibis (como
eu gostava! Comprava usado na feira, pois eram mais baratos), chaveiros, palitos de picolés (catávamos na rua e fazíamos esculturas com eles), caixinhas de fósforos e por fim meus
“preciosos”, os mais queridos, meus álbuns de figurinhas. Completeis alguns, entre eles dois especiais,
Ciências, que era um álbum cultural, com as grandes descobertas da ciência da
época (eu o tenho até hoje, um pouco carcomidos por cupins). Era um álbum educativo,
com fotos ou desenhos e a descrição de cada uma (muito legal) e por fim o meu álbum de figurinhas da Disney. Esse eu sempre cuidei com um carinho todo especial,
afinal quando os completei ainda estudava no Tarcísio Bueno! O álbum da Disney,
como todos, tinha um mercado paralelo de venda e troca de figurinha e tinha a
mais difícil de todas: a Baleia, do filme Pinóquio. Um dia comprei um saquinho
(não podia comprar muitos, ok?) e quando abri veio três figurinhas repetidas,
uma saco, certo? Não, eram três baleias num saquinho só! Fiquei rico
revendendo-as. O tempo passou e a minha cunhada pediu emprestado meu álbum da Disney e
meu coração desmoronou. O tempo foi passando, passando e nada dela devolver e
por fim desisti, afinal já haviam se passado 10 anos! Um
dia eu fui à casa do meu sogro e para minha surpresa ela devolveu meu querido
álbum e intacto! Foi o melhor dia da minha vida de colecionador. Hoje não
empresto mais, não adianta pedir, no máximo olhar, e na minha mão (hehe).
21 novembro 2011
Short Story XVI - Pedrinhas
Quando moleque vivíamos na casa dos amigos, éramos aquelas
crianças chatas, inconvenientes, que todos evitam e falam mal, davam um dedinho e a gente pegava o braço todo, mas fazer o que? Nossa casa não tinha nada! (Éramos
8 + os pais + as avós, numa casa de dois quartos. Depois ela cresceu, mas
quando moleques era dessa forma). Assim só restava a rua e casa dos outros, éramos
chamados televizinhos (imagine porque, né? Isso mesmo, não tínhamos TV,
nunca tivemos. Minha primeira TV foi quando eu me casei). Alguns vizinhos eram
legais e deixavam a gente assistir um pouquinho de TV, abrindo até a janela, e
nós ficávamos pendurados nela ou em cima dos muros. Outros fechavam portas e janelas na
nossa cara, ou escondiam que tinham TV (eu até entendo, ninguém merecia
“aquilo”). Um dia estava na casa de um desses coitados e fui convidado a fazer uma pesca de arrastão na Praia das Pedrinhas, que
ficava “próximo” da casa dele (na verdade uns três quilômetros, que fazíamos
andando com o arrastão nas costas e mais três para voltar). Como o nome diz,
essa praia tinha muitas e muitas pedrinhas que cortavam os nossos pés, mas
praia de areia mesmo era muito pouca, bastava entrar um pouco na água e
encontrávamos lama, muita lama, mas isso não importava, nós queríamos pegar uns siris ou, quem
sabe, uns camarões para saborear naquele nublado dia (diziam que nos dias assim
dava mais). Fizemos diversos arrastos, mas a maré não estava pra peixe, ou
siri, ou camarão, até que conseguimos pegar um caranguejo azul enorme. Meu
amigo, na ânsia de não perdê-lo, visto ser o único conseguido até aquele
momento, meteu a mão nele. Pra que! O danado agarrou no dedão da sua mão e não
soltava de jeito nenhum, o sangue saía borbulhando do seu dedo, mas o bicho não
abria a garra. Tivemos de quebra-la com uma pedra para pode liberta-lo. Eu tinha uns doze anos, ambicioso e acreditava que poderia haver algo além
daquele siri azul naquelas “límpidas” águas daquela praia bem ao fundo da
Baía da Guanabara e continuamos arrastando. Distraídos fomos indo cada vez pra
dentro da água, quando a maré começou a encher e não nos apercebermos. De
repente eu tinha água até o nariz e lama até o joelho; atolado pela lama não
conseguia sair para respirar. Lutava bravamente, tentando escapar dos dois
inimigos, quando me agarrei à madeira do arrastão, usando-o como alavanca e consegui
desatolar uma perna, aí mergulhei e usei a perna solta deitada como base no fundo do mar para
desatolar a segunda perna e assim conseguir tirar a cabeça para fora da água e
pegar um pouco de ar. Foi brabo, mas consegui sair daquele atoleiro molhado e
sem nada.
18 novembro 2011
Short Story XV - Gasolina
Como dizia minha mãe, vivíamos “soltos pelos pastos” (era
assim que ser referia à forma como fomos criados, ou seja, na rua). Lembro
muito dos seus gritos nos chamando lá de casa: "Lieeeeziooo”, “Lieeeeeelllllllll”, “Dileeeeeiiiiii”, para voltarmos para casa (o grito ia longe, parecia uma araponga)
e era assim que éramos chamados, ou nos chamávamos, pois, apesar do nome de todos os 8
filhos começarem com a letra “E”’, não pronunciávamos essa letra (que ironia,
não?), era: Dilane, Dilei, Liel, Liézio, Lezer, Deí etc. Nosso parque de
diversões era a rua e sempre tínhamos muita coisa pra fazer nela. Eram muitas as
brincadeiras, como: Pique (todos conhecem), com suas diversas variações, “pique
tá”, “pique ajuda”, “pique alto”, “pique baixo”, “pique cola” etc; garrafão,
esse vou ter de explicar um pouco. Garrafão, como o nome diz, era uma imensa vasilha,
tipo uma garrafa gigante, que desenhávamos na rua de barro. Era desenhado com
os pés, raspando-o no chão, ou riscado com uma vara. Era tipo um pique, só que
acontecia em volta dessa figura desenhada. As regras eram: um escolhido tinha de pegar os incautos, ou os mais arrojados,
e quando pego ou cometesse alguma infração, era espancado até conseguir
alcançar um ponto definido previamente (normalmente bem longe pra apanhar
muito). Era possível entrar e sair do garrafão, mas somente pela boca, porém os
perseguidos podiam sair pelo fundo do garrafão (num pé só), o perseguidor, não. Os
perseguidos podiam “cortar” de um lado ao outro dessa figura, só que de novo apenas com um pé (pépé, como chamávamos). Se colocasse os dois pés ou mesmo tocasse o chão, pisar na linha, ou ser pego, o pau cantava até conseguir alcançar o
ponto definido, agora devidamente dificultado pelos demais para apanhar mais,
obstruindo o caminho. Divertido, bati e apanhei muito brincando de garrafão.
Tinha a “Bandeirinha”, que muitos conhecem, queimado (comum), amarelinha, pião, bola de gude (búlica, triângulo, mata mata, à vera, à brinca e outros tipos), cafifa etc,
mas havia uma diversão adicional para a garotada da vizinhança, um velho pequeno
caminhão que estava enguiçado a anos próximo à nossa casa. Lá nos brincávamos
de dirigir no seu velho e grande volante, pulávamos nos bancos de palha e molas
cheios de pulgas e na carroceria quase sempre tinha um “evento”. Um dia tivemos
uma grande ideia, tirar gasolina do velho tanque para fazermos uma fogueira.
Arrumamos uma garrafa de vidro e uma mangueira e fomos à luta. Enfiamos a
borracha no tanque e ficamos tentando tirar o precioso combustível, mas não
saía, estava difícil. Tentava um, tentava outro, mas todos moleques e burros, nada
de conseguir, aí eu radicalizei, dei uma grande sugada e um liquido marrom e
fedorento saiu, mas como puxei com forca excessiva não consegui conte-lo e
engoli uma grande quantidade dela, foi terrível, a grande golada entrou
garganta a dentro queimando e caiu pesado no estomago. Achei que ia vomitar,
fiquei desesperado, mas nada de conseguir expulsar aquele troço de dentro de
mim. Com minha “super sugada” o líquido continuou a sair e pude observar melhor
o que eu engoli, não havia mais gasolina naquele tanque, apenas restos imundos de
combustíveis, agua e ferrugem: sobrevivi.
14 novembro 2011
Short Story XIV - Pindamonhangaba
 |
| Onde está Wally (eu)? |
Estudei num colégio interno, na verdade um seminário, por
dois anos, ou quase dois anos, pois fui também quase convidado a sair faltando
dois meses para me formar. Quase porque meu pai foi me buscar do “Egito” e do
seu governador, conhecido por Faraó (porque judiava do povo de Deus). Até hoje
tenho dúvida se o período que eu passei por lá foi bom ou foi ruim para mim (quase
sempre acho que foi ruim, mas pode ser que tenha sido bom, vai saber). Era um
lugar feito para te humilhar e te fazer se sentir um lixo, ou, como diziam, “barro amassado
na mão de um oleiro” e assim “Deus poder operar” (vai entender). Eu procurava,
dentro de um limite muito pequeno, me integrar, mas não era bem aceito pela
“comunidade”, era mal visto (injustamente, há de ser registrado. rs). Lembro de
uma vez que um deles, oriundo da região norte, onde trabalhava nos seringais, muito
forte, brincava de agarrar e brigar com outros alunos e tentei entrar na
brincadeira. Pra quê, na mesma hora ele recuou com medo de mim, do alto dos
meus 59 quilos e 1,80 metros (vai entender 2). Tinha uns amigos, tão
sorumbáticos e taciturnos como eu (blog é cultura), e fazíamos tipo uma gangue dos
alijados, dos desenquadrados e dos revoltados (Pelo menos éramos vistos assim - vai entender 3). Eu não tinha muitos motivos para sorrir e assim era o meu dia,
de trabalho e estudo, sonhando em ir em casa uma vez por mês. Neste Seminário, apesar
de pago, éramos obrigados a trabalhar em regime de escala, seja lavando os
banheiros, capinando, cuidando da horta, lavando panelões, cuidando da cozinha,
trabalhando de graça no sítio particular do Faraó, enterrando vaca morta (no
mesmo sítio), arrancando mato de um pasto com a mão (para não estragar o capim,
dizia sabe quem: Faraó!) etc. A comida era racionada e era isso e um capítulo realmente
degradante e humilhante de ver (graças a Deus não estava nessa). Uma vez por
semana era servido ovo e era uma guerra. Era um dia especial e a fila começava
cedo (tipo um show que as pessoas madrugam) e estes primeiros que pegavam o seu bandejão iam
comer em pé, de novo na fila do rango, para pegar algum resto de ovo que tenha sobrado
(ou não) e era apenas a metade de um ovo! O que tinha em fartura eram repolho e
chá. Diziam na rádio corredor que havia alguma coisa naquele chá, mas nunca foi
provado, mas achávamos estranho tanto chá, não havia café, e éramos
incentivados a toma-lo, o que nos deixava ainda mais desconfiados. O café da
manhã era uma grande caneca de chá com uns pingos de leite para “sujar” o chá
ou o leite. O leite era muito, muito racionado e não adiantava voltar para a
fila tentando pegar mais um pouco do resto, não davam. A comida era ruim, muito ruim,
feita pelos próprios estudantes e os alunos mais duros dava dó, ou comiam
aquilo ou morriam de fome. Teve um que foi internado por inanição, porque
simplesmente não conseguia comer aquela gororoba que chamavam de comida e quem
não tinha um dinheirinho pra comprar um pão velho, só restava a fome ou a
morte. Eu era duro, mas nem tanto, fazia uma vaquinha com meus amigos
sorumbáticos e comprávamos um litro de leite e colocava para esquentar num “rabo
quente” e bebíamos no intervalo das aulas puro ou com groselha. Uma vez comprei
uma garrafa de groselha só para mim e guardei no meu quarto, mas fui observando que o nível
caía, mesmo eu não bebendo, e desconfiei que estava recebendo a visita do
alheio, então tive uma ideia, peguei um vidro mercúrio cromo, dilui em água,
coloquei na garrafa vazia de groselha e deixei aonde eu a guardava. Quando
voltei da aula fui olhar minha "groselha" e para minha surpresa a garrafa estava
pela metade! O amigo do alheio tinha me
visitado enquanto estava em aula bebido mercúrio cromo! Foi terrível, pensei
que ele fosse morrer, mas não, descobri que beber mercúrio cromo não mata, pelo
menos um eu sei que um tá bem vivo.
11 novembro 2011
Short Story XIII - Morte
Hoje, nesse mundo chato e politicamente correto, falar que
matava animais soa mal, ou mau, muito mal, mas não era assim quando moleque,
matar era entretenimento. Lembro de quando estávamos caçando passarinhos pra comer,
isso mesmo, pra comer (horrível ouvir isso, né?), mas vamos viver a situação: éramos
uns oito moleques “caçando”, na verdade tentando, pois nada conseguíamos pegar porque éramos
incompetentes, simplesmente nada acontecia, os pássaros eram mais espertos que
nós e foi quando um bando de andorinhas passou voando sobre nossas cabeças e eu, que
já estava com minha arma engatilhada
(uma seta, ou estilingue, para os de fora), atirei para cima e uma pobre
coitada caiu aos nossos pés morta. Foi uma festa, mas foi também uma guerra
para dividir UM passarinho assado, ou
melhor, frito. Hoje me parece até engraçado: “a coxa é minha”, “eu que matei,
quero o peito”, “eu também quero um pedaço” e assim ia a distribuição do
“enorme” corpo da andorinha morta. Numa outra
ocasião eu estava na casa de um amigo e a mãe dele pediu para matarmos uns
pombos para comermos no almoço. Aí não prestou, eu amarelei. Para quem não
sabe, mata-se um pombo estrangulando-o, girando o pescoço dele até sufocar e morrer,
ou arrancar logo a cabeça, para quem tem mais coragem. Eu não conseguia
completar o serviço, ameaçava girar, girava um pouco, dava uma volta no pescoço
do coitado e voltava, não completava o serviço e assim o pobre pombo sofria
mais (até hoje lembro dos seus olhos vermelhos, esbugalhados, olhando para mim, querendo sair da órbita) e não morria. O assunto foi resolvido quando a mãe
dele veio com uma faca e cortou as cabeças e ponto final, comemos os coitados. Um
dos meus irmãos tinha um requinte especial de crueldade com os animais, enterrava-os
vivos. O processo era simples, cavava-se um buraco e colocava o escolhido
dentro de buraco (no caso um gato), claro com um “pouco” de resistência e
depois jogava terra em cima e ficava observado. Quando o bicho se mexia
revolvendo a terra querendo sair, ele, juntamente com um amigo, socava a terra,
pisava e pulava em cima e ficava observando de novo; se novamente a terra mexia
o processo se repetia até parar (sabem porque, né?). Quando garoto havia um mico
um nossa casa que morreu de saudades de outro dos meus irmãos, que era o dono e quem cuidava dele, e eu queria vender o
corpo para um curtume, só que estava fechado e tive de esperar abrir. O bicho
ficou dentro do congelador por mais de um mês (imagine, misturado com alimentos) até eu o
vender para o curtume. Acho que vendi pelo o que seria R$ 1,00 hoje, pois não
deu nem pra comprar nem uma mariola (pesquisem no Google, não vou dizer o que
é). Também era comum minha mãe comprar ou ganhar galinhas vivas, que eram
mortas com nossa ajuda. Segurávamos o corpo da escolhida, que tinha o pescoço
cortado, até parar de se mexer (se escapasse era uma sujeira danada de sangue e
a mãe ficava falando, “não solta, não solta, não solta!”), depois era jogada
numa panela com água fervente para ser depenada, às vezes ainda se mexendo (ela
dizia que eram espasmos, mas acho que ainda estava viva). Matávamos porco com
uma fina faca enfiando-a debaixo do braço e atingindo o coração (até ouço os grunhidos
dos coitados), bezerros eram mortos com uma marretada na cabeça (que apenas
ficava atordoado e depois o serviço era finalizado com um facão) ou coelhos
(tão bonitinhos, né?). A morte era natural, como tem de ser.
05 novembro 2011
Short Story XII - A Ilha
Fui criado num balneário às margens da Baia da Guanabara
(rs). Sempre gostei de nadar e estar dentro das suas “límpidas” e mornas águas.
Hoje reclamam que ela é poluída, mas no passado era pior, muito pior, pois,
além dos esgotos domésticos, que hoje ainda se mantem, haviam todos os dejetos
industriais, que diminuiu muito, graças às leis ambientais criadas a partir de
uma maior conscientização de que não ia dar do jeito que caminhava. Assim tenho muitas
histórias para contar que ocorreram nela, como a micose de pele que peguei
nessas citadas águas; a vez que roubaram todo o meu dia de trabalho, fruto da
venda de 200 picolés, num dia de sol de verão e muitas horas andando e gritando,
“picolé!, olha o picolé!”, com meu chapelão de mexicano que minha mãe me deu; as
vezes que fiquei atolado em suas lamas, as pescas de caranguejos, os quase
afogamentos etc. E hoje vou contar uma. No interior da Baía da Guanabara existem
muitas ilhas e algumas são bem próximas da terra e eu e a molecada gostávamos
de nos aventurar nelas. Um dia eu e com uma dessas turmas arrumamos um velho caíco (pesquisem
no google o que é), atravessamos o canal que a separava do continente e fomos à chamada "Ilha da Rádio Globo", que como o nome diz, tem a antena da mesma localizada
nela. Nossa viagem de ida foi tranquila, fomos bem e nos divertimos muito lá,
pescando, mergulhando e nadando nas suas minúsculas plácidas praias de lama,
pedra e águas mornas. No final da tarde resolvemos voltar, mas aí não foi tão
fácil como ir, pois começou a ventar muito e a arrastar o pequeno barco
levando-o para outro lugar e, por mais que nos esforçássemos, o barco não ia para
onde queríamos que ele fosse (continente), e ia nos levando mais e mais
para dentro da Baía da Guanabara. Foi então que tiver uma maravilhosa ideia, me jogar no mar
e ir nadando. Pra quê, a ideia, na teoria, era muito boa, mas não se mostrou tão boa assim, na prática. Logo que caí na
água e comecei a dar minhas primeiras braçadas, percebi que havia outro inimigo além do
vento que nos atrapalhava: as fortes correntezas que, oculta pelas escuras
águas, passavam naquele canal e comecei a ser arrastado por ela e no sentido
inverso ao barco, o barco ia para a esquerda da ilha e eu ia sendo levado para
a direita. Me esforçava, dava braçadas, tentava nadar por baixo d’água e nada!
(literalmente). Simplesmente não conseguia chegar à terra firme e nem voltar
para o barco, aonde meus amigos continuavam bravamente a lutar. Minha luta se
prolongou por um tempo que parecia uma eternidade e a correnteza foi me levando,
me levando para dentro da área restrita duma usina termoelétrica que é quase em
frente à ilha. Eu, exausto, consegui me prender e um dos dois grandes tubos de
aço que era usado pela usina para levar a água do mar para gerar vapor e
energia. Com dificuldade conseguir me grudar no grande tubo, que graças a Deus
não estava puxando água naquela hora, senão teria sido sugado para dentro dele
(era imenso para mim). Descansei um pouco e fui de “cachorrinho” para a margem.
Pensava ter terminado meu sofrimento, mas me aguardava os seguranças da usina
que me esperavam para me dar uma lição (como se eu ainda precisasse). Tentei explicar o
que havia ocorrido, mas não teve jeito, fui escorraçado para fora da usina.
P.S. Na foto estão marcados a
ponta da ilha onde estávamos e para onde fui arrastado.
Quem quiser
saber aonde é click no link: http://g.co/maps/b5qc3
02 novembro 2011
Short Story XI - A Caixa
Já era velho, por favor, não perguntem a idade, afinal vou
fazer meio século! Estava no telhado consertando a boia da caixa d’água que
havia quebrada na noite anterior, inundado a minha casa (paredes, teto,
quintal, janelas de madeira..., tudo molhado). Sou o tipo “faz tudo”, trabalhei
em obras com meu pai e meu irmão que me deram habilidades básicas para
construir e reformar. Minha casa, da concepção, projeto, construção,
instalações elétrica, água e esgoto, pintura etc tem minhas mãos, meu suor e
muitas e muitas vezes, meu sangue (sempre me machuco quando vou fazer algo, já
deixo pronto do Polvidine à gaze), mas não é sobre isso que quero falar. Como
dizia, consertava a boia da caixa d’água. Era uma caixa grande e redonda, com
quase 2.000 litros, alta, com um buraco redondo na parte de cima, que quase
encostava no telhado do meu terraço, de fibra, com uma tampa de rosquear (tipo
um parafuso gigante), e, por esse buraco, passava um pouco mais que o meu
corpo. A caixa estava cheia, pois não podia esvazia-la, porque estava havendo
um evento em minha casa e não podia ficar sem água. Eu tinha de trocar a boia e
tentava de diversas maneiras alcançar a quebrada, a fim de colocar a nova. Então,
como meus braços não alcançava a danada tive uma ideia, enfiar um pouco a
cabeça dentro da caixa (havia um pequeno vão livre, sem água) para assim ter
uma maior amplitude e alcançar a boia velha, mas não conseguia concluir o
trabalho, estava muito dura, não saía de jeito nenhum, assim enfiei um pouco do
tronco para dentro da caixa, deixando o resto do corpo pra fora fazendo um
pêndulo para me equilibrar e me manter fora da caixa. Rodava, rosqueava, pegava
uma ou outra ferramenta, contorcia meu corpo tentando alcançar e consertar a
bendita quando subitamente me desequilibrei e caí de cabeça para baixo dentro
da caixa. De repente me vi com todo o meu tronco enfiado dentro d’água e de
cabeça para baixo, apenas com as pernas de fora. Lutava para sair, mas o mesmo
corpo, que antes me equilibrava fazendo um pêndulo e me mantendo do lado de
fora da caixa, agora me empurrava pra dentro dela, me impedindo de sair. Me
esforçava tentando sair, me virava no pouco espaço que tinha, mas como era
muito profunda não conseguia me pôr para fora, mesmo esticando meus braços não era
suficiente. O tempo foi passando e o ar começava a me faltar e não conseguia
sair. Tentei então terminar de entrar na caixa e assim me levantar, mas não
conseguia, não havia espaço suficiente para esse movimento e eu nem entrava,
nem saía. O desespero começou a tomar conta de mim, visto que o ar fazia cada
vez mais falta, comecei a imaginar o pior, eu, sozinho, no alto de uma pequena
laje, colado a um telhado, um lugar de difícil acesso, que nem dava pra me ver,
apenas as pernas de fora, morto afogado, quando de repente saí,
inexplicavelmente saí. Vivi um milagre, Deus poupou a minha vida (de novo).
P.S. Imagem igual a da caixa descrita na história.
29 outubro 2011
Short Story X - A merendeira
Dinheiro era algo que não existia para nós, os livros que
usávamos eram dos irmãos mais velhos, que tinham de usar com carinho e cuidado,
escrever com lápis, para poder ser apagado e ser reutilizado pelo mais novo, pois não existia livros do governo (odiava usar livro usado, sempre fui metido). Esse procedimento já era uma prévia do mundo
“sustentável e reciclável” de hoje. Para ir a escola eu tinha uma pasta preta, tipo as usadas
por advogados, feita de courino, onde levava meus livros, cadernos e meu pão
com manteiga embrulhado num pedaço de papel de pão (às vezes também colocava
açúcar junto com a manteiga. Não existia margarina nem óleo de soja, era manteiga e banha de porco). Adorava o cheiro que ficava na pasta do pão
misturado com os livros, lápis e cadernos, lembro até hoje, mas eu tinha um
sonho: uma merendeira. Era meu sonho de consumo, via as crianças usando e
ficava imaginado uma só minha. A merendeira era, guardada as devidas
proporções, como as que as crianças usam hoje, uma caixinha quadrada, com um
furo na tampa para passar uma garrafinha e uma alça para ser levada. Eu via
aquelas merendeiras sendo levadas pelas outras crianças e a desejava, mas não
tinha o vil metal. O tempo foi passando e fui descobrindo maneiras de
consegui-la: trabalhando, catando ferro velho, garrafas, cobre, metal ou
vendendo minhas preás na feira que era em frente à minha casa. Assim resolvi focar, parar de comprar mariolas e fazer um pé de meia com o dinheiro que conseguia, para poder comprar a minha própria merendeira. Fui
amealhando os recursos, poupando meus centavos, guardando até que consegui o suficiente
para compra-la e assim o fiz. Era linda! De plástico verde, com a tampa branca bordada
em alto relevo, marcando o plástico flexível. Tinha um buraco para passar a
garrafinha vermelha, maravilhosa! Levei para casa, preparei meu pão com
manteiga, enchi a garrafinha de suco de caju e fui orgulhoso para a escola. O
único problema é que eu já tinha completado 13 anos e estava ridículo, daquele
tamanho, com uma merendeira de criança pendurada no ombro.
25 outubro 2011
Short Story IX - Tábua de Sebo
Pobre todos já sabem que eu era, mas isso não me causava
nenhum constrangimento ou embaraço, porque os outros garotos com que convivia eram
iguais ou piores que eu. Poucos eram “ricos” (tinham TV preto e branco e/ou
bicicleta), o restante eram ferrados como eu, mas isso não tinha importância naquela
época, não consumista como hoje e medidos pelo o que se tem: éramos felizes.
Pelo descrito, logicamente não ganhava brinquedos e fazia os meus próprios
brinquedos (quando criança só lembro de ter ganho um único brinquedo no natal,
um caminhão de bombeiro que esguichava água.), e um dos meus brinquedos
favoritos eram os “carrinhos de lata”. Sabem o que é? Vou explicar. Eram latas,
como as de leite em pó, com um furo em cada extremidade, que era transpassado
por um arame, que servia como um eixo, era preenchida com areia para dar peso e
assim poder ser puxado como um carrinho de criança, só que era uma lata (o carrinho
estava na imaginação). Assim íamos brincando, puxando nossos “carrinhos” pelas
calçadas da rua e eu tirava onda, os meus carros eram enormes, um verdadeiro comboio,
com seis, até dez ou doze latas, interligadas uma na outra. Show! Claro que os vizinhos não gostavam
nem um pouco, porque quase sempre a lata abria, seja por rodar forte, por bater
em algo ou por fadiga de material mesmo, e a terra entornava em frente às casas
dos mesmos. Claro, não limpávamos nada, ficava entornado mesmo. Também havia a
“tábua de sebo,” que era um pedaço tábua com cerca de 60 cm, encerada com o puro
sebo do açougue do seu Antônio (não tinha acesso à graxa ou cera). O coitado
sofria, todo dia aparecia um monte de moleques pedindo um pedaço de sebo e ele quase
sempre dava, cortando num tronco de madeira com sua grande faca (a carne era cortada
em pedaços de troncos de árvores gigantes, não havia resinas como hoje). Ele era
legal, sempre tinha meu sebo pra passar na minha tábua. Devem estar se
perguntando, mas para que servia essa tábua de sebo? Pra descer o morro, ora!
Havia uma ladeira, próxima à nossa casa, que era concretada. Íamos até o topo,
sentávamos na tábua e descíamos a ladeira a toda. A minha tábua era uma das mais
velozes e quando eu vinha morro abaixo tinham de sair da frente, se não passava
por cima (não havia freio, o freio era um lixão que havia na esquina:
estabancava-nos nele). Um dia eu me preparei, dei meu grito de guerra, “sai da
frente! Lá vou eu!” e desci. A princípio foi uma descida tranquila, mas minha
tábua começou a girar lentamente para a esquerda (não havia direção) e comecei
a descer de lado. Continuou girando e fiquei agora de costas a toda velocidade,
mas, como desgraça pouca é bobagem, ela foi indo em direção à sarjeta, que
desciam os esgotos das casas e eu não conseguia desviar (estava de costas,
lembra?). Assim vinha eu, a toda, como passageiro, pelo canto da sarjeta quando
uma pedra segurou a tábua, ela ficou presa e eu fui arremessado pra frente, caindo
com as costas na sarjeta de esgoto, que foi ralando e sendo comida pelo
concreto áspero, coberta pelo esgoto fétido. Foi uma mistura de sangue e lama
e, pra ficar legal, tive de aturar as gargalhadas dos “amigos”, rindo, e muito,
da minha desgraça (crianças são cruéis). Para fechar com chave de ouro: corri
para casa, com as costas ardendo, doendo muito e chorando e minha mãe cuidadosa
e carinhosamente passou vinagre com sal para desinfetar os ferimentos das minhas
pobre costas. Já passaram vinagre com sal na carne viva? Arde.
21 outubro 2011
Short Story VIII - O Tubo
Como já disse, agradeço a Deus por ter ainda todos os meus
dedos, mãos e a minha visão (principalmente depois da pólvora preta), porque
vou dizer uma coisa...! Já aprontei cada uma! Quando moleques nós tínhamos umas
atividades que hoje eu acho hardcore, mas era nossa diversão. Uma delas era
derreter chumbo. Hoje sei que os vapores do chumbo não fazem nada bem, causando
problemas psíquicos e câncer, mas quando crianças não sabíamos de nada disso e
vivíamos brincado de derreter chumbo para fazer bonecos, escultura diversas,
peso para pesca ou simplesmente vê-lo ficar líquido. O chumbo nós tirávamos de
uma casa velha abandonada da rua. Olha, não sei se já foram queimados com
chumbo derretido, então vou informar, arde. Essa atividade era realizada, como
tudo, de forma muito precária, com uma fogueira com restos de madeira de caixa
de feira e uma latinha de sardinha, que usávamos para colocar o chumbo a ser
derretido. Outra diversão era explodir latas de aerossol. Sempre que achávamos
uma num lixo era uma festa, sabíamos que ia ter festa. Latas de aerossol eram
raras, porque eram caras, pois pra matar mosquitos nós usávamos a “bomba de
flit”. Já ouviram falar? Era uma bomba, tipo de bicicleta, com um recipiente na
frente para colocar o inseticida líquido. Aí era só bombear o ar e o “flit”
saia do outro lado, em forma de vapor, para matar os mosquitos, muriçocas,
baratas e insetos diversos.Também
gostávamos de andar pelos muros das casas, se equilibrando (os melhores eram as
mais altos). Nosso vizinho colocou azulejo para impedir que nós andássemos no
muro dele, mas nada podia impedir os educados filhos de Alberto. Mas voltando
aos aerossóis. Como dizia era diversão porque íamos explodi-las. O processo era
o seguinte, fazíamos uma fogueira, um fogo bem abundante e quando estava bem
forte, jogávamos a lata de aerossol no fogo. Então era esperar um pouco e bum!
Era uma grande explosão. O que era de janelas abrindo, com os vizinhos
procurando entender o que estava ocorrendo! Só vendo. Uma vez o fundo de uma
dessas latas voou grudou na batata da perna de um amigo. Foi hilário! A lata
grudou na perna dele, pois derreteu a pele e fiou aquela argola preta na perna.
Foi muito engraçado (não foi comigo, tinha de rir). Depois disse passamos a
manter uma distância segura. Mas a big one foi quando explodimos um tubo de
imagem de TV. Já explodiram um? Pois eu dou aconselho, tomem cuidado. Foi a
maior explosão que já vi na minha vida e olha que eu já vi muitas hein! (um dia
eu conto algumas). Primeiro tivemos que conseguir um tubo com o vácuo,
normalmente as oficinas tiram esse vácuo antes de descarta-los, mas esse estava
intacto. Nossos olhos brilharam quando o vimos. Levamos, com dificuldade, pois
era pesado, para os fundos da minha casa e começamos o processo. Primeiro
começamos a jogar umas pedrinhas, como não quebrava (na verdade essa era nossa
intenção, quebrar para vender o vidro), aumentamos o tamanho das pedras, e
nada! O vidro era muito grosso e duro, quando meu amigo radicalizou, pegou um
paralelepípedo e arremessou contra o tubo. Aí sim explodiu, bum! Sentimos até o
chão tremer. Foi demais, ficamos apavorados e saímos correndo. Repetindo,
graças a Deus eu ainda enxergo, o vidro grosso do tubo ficou como vidro moído, picadinho.
18 outubro 2011
Short Story VII - O Quadriciclo
Não quero chorar miséria, apenas contar histórias, por isso tenho de falar, éramos duros. Não tínhamos brinquedos e precisava nos virar e usar nossa imaginação e habilidades. Assim estávamos sempre inventando e construindo nossos brinquedos, como patinetes feitos de rodas de bilhas ou “carrinho de rolimã” (era assim que chamávamos, feitos com rolamentos usados). Haviam duas versões desses patinetes, um para andar sentado, que eram o terror dos dedões, pois passavam por cima dos coitados quando estávamos remando com as mãos no chão, dando impulso para ele andar, e uma versão para andar em pé, parecido com os modernos patinetes de alumínio de hoje, mas como as rodinhas eram de ferro e muito pequenas, quando uma pedra entrava embaixo da roda nós voávamos por cima de “guidom”. Tudo muito precário, feitos de madeira e pregos, construídos por nós mesmos, crianças, sem nenhuma supervisão de adultos, um caos! Mas um dia tudo mudou, nós achamos no lixo um quadriciclo. Ele já era velho e enferrujado, sem a proteção na empunhadura da alavanca e com pedaços de ferro meio soltos. Tinha quatro rodinhas (por isso o nome), um banco de metal amassado, sem encosto, na parte atrás e era dirigido pelos pés (as duas rodas da frente giravam num eixo permitindo virar para esquerda e direita). Esse brinquedo era o máximo para nós e tocávamos o zaraia com ele. Íamos sempre na velocidade máxima, com um sentado (gritando o tempo todo, “mais rápido, mais rápido!”) e outro atrás empurrando como se fosse o motor. O problema era a alavanca que foi construída para fazer o carro andar, como se fosse pedal de uma bicicleta, só que com as mãos pois, como tinha um “motor” atrás empurrando o carrinho, aquela alavanca ficava solta, indo pra trás e pra frente se movendo freneticamente sozinha, movida pela engrenagem do carrinho. Pois bem, uma vez eu ia de motor para meu irmão caçula, que ia sentando e “dirigindo” o possante com os pés, quando, ao passarmos por uma protuberância na calçada, subimos e capotamos. Voamos nós três, eu ele e o trambolho. Foi uma confusão danada e eu, com dificuldade, consegui me desvencilhar do carrinho e do meu irmão que estava em cima de mim, mas não conseguir tirar o brinquedo, a alavanca tinha encravado na virilha dele. Um pedaço de ferro velho e enferrujado estava enfiado dentro do meu irmão e eu não sabia o que fazer. Um conhecido viu aquela situação e ajudou, “extraiu” o ferro cuidadosamente e o levou para o pronto socorro municipal (já éramos conhecidos lá). Levou doze pontos, quase ganhou na Loteria Esportiva.
Short Story VI - A 1ª vez ninguém esquece.
Meu pai
era Pastor, mas também ex-policial. Consegue imaginar esses dois seres
alienígenas, pois nunca deixou de ser um ou outro, dentro de uma só pessoa?
Pois é, o pau cantava. Décadas de 50 e 60, outros costumes, podemos dizer outra
cultura, o evangelho chegando e o exemplo tinha de ser dado, assim juntava o
guardião da moralidade, honestidade e dos bons costumes, um líder religioso de
personalidade, digamos assim, um pouco forte a um “poliça”. Não prestava. Meus
irmãos mais velhos têm histórias de surras homéricas que levavam, normalmente
por motivos justos e fortes, como tomar banho no rio, ver televisão, beber
guaraná, usar sandálias de dedo, pegar uma abobrinha num terreno baldio etc,
assim eles não têm nenhum ressentimento (rs). Um desses teve a velha correia do
meu pai arrebentada no seu corpo e pelo lado da fivela! (não adiantou nada).
Ouvíamos muitas de suas histórias de quando era policial, como quando prendeu
uma quadrilha que estava encurralada numa casa. Era ele mais um amigo,
desarmados, há de ser ressaltado, e usando apenas seu gogó e o respeito que a
malandragem nutria por ele. A história é longa, mas resumindo eles ficavam
gritando um para o outro do lado de fora da casa, “Bala na agulha, Zé?”, “Sim,
bala na agulha”, “vamos invadir agora!”, descrevendo o terror psicológico que
faziam com os pobres coitados, os meliantes. No fim eles saíram tremendo e
chorando de dentro da casa, suplicando pelas suas vidas (desarmados! Não
esqueçam). Outra que ele contava era como prendeu mais de uma dúzia de malandros
e os levou em fila indiana pelas ruas de Niterói até a delegacia e ninguém
fugiu! Como sabemos os malandros respeitam quem os trata com carinho, amor e
consideração. Assim, como eram “bem tratados”, temiam e tremiam. Eu como quase
fui a raspa do tacho, da longa série de filhos, não peguei essa virulência, mas
recebi meu bocado. Tinha meus 11 ou 12 anos, vivia na igreja, lógico, e no
porão da mesma havia uma grande sala aonde funcionavam dois departamentos da
igreja, a secretaria e a tesouraria. Era um salão aberto, sem divisão entre
elas e eu, juntamente com uma molecada, tocava o zaraia no salão. O velho
tesoureiro pediu que eu parasse com a bagunça e como educado que era, não
parei. Ele replicou dizendo que não podia ter ninguém na tesouraria e para eu
me retirar. Aí eu, mui educadamente, me desloquei até aonde seria o meio da
sala, fui até uma extremidade da parede, levantei o pé direito e vim arrastando
meu pé no chão até a outra parede, traçando, acintosamente, uma linha
imaginária e dividindo a sala em duas (como o Tratado das Tordesilhas) e
repliquei: “lado direito, tesouraria. Lado esquerdo, secretaria. Estou na
secretaria”. Não prestou. O velho me dedurou e meu pai desceu bufando pelas
ventas para onde eu estava. Quando vi aquela figura enorme crescendo sobre mim
(ele era gordo nessa época), agarrando fortemente meu braço e já conhecendo a
fama, tremi, antevendo o que iria acontecer. Como sempre meu pai explicava o
que eu deveria e o que eu não deveria ter feito, aonde eu errei e como deveria proceder.
Depois do sermão sacou a sua inesquecível correia velha para, vocês sabem fazer
o que, baixar o sarrafo! Eu que não era dos mais inteligentes da série, mas nem
por isso o mais burro, comecei a chorar e a gritar, “Não! Chega! Tá doendo
muito! Ah, que dor e sofrimento!” e assim ia eu gritando como um condenado e a
correia cantando. Tinha irmão que era mané, dizia “não doeu”, apanhava até
doer. Eu não, pulava como uma pulga, agarrado pelos colarinhos, enquanto
as correiadas pegavam na minha calça de tergal nova (última moda) que minha mãe
tinha feito para mim, que cobria minhas finas pernas.
P.S. Isto é uma história dramatizada. Ressalto que meu pai foi um grande homem, sempre apoiando os filhos e ensinando nos caminhos corretos da vida. Foi muito querido, admirado e respeitado por todos, apenas era outra época, outros costumes. Com o tempo ele foi mudando (grande qualidade dele). Um pai muito bom que deixou muitas saudades (foto dele com minha mãe no meu casamento).
Short Story V - Cabeça
Tenho um irmão que, quando pequeno, tinha um
comportamento bem peculiar pra dormir. Ele tinha alguns poucos apelidos como Cabeça, Orelha, Topo Gigio, Comprido, Cabeção, Didio, Pau de Virar Tripa (não
sei por que tinha esses apelidos) e muitos outros mais, ou menos interessantes.
Moleque
inteligente, tipo Peter Parker, the Spider Man, “Brilliant, but lazy”. Era um grande cara, excelente em quase tudo que
fazíamos como crianças, como, jogar pião, soltar cafifas, jogar bolas de gude,
etc. Vivíamos soltos no pasto, nas casas dos amigos, andando de bicicleta
(emprestada, claro. Não tínhamos a nossa), brincando de garrafão (não vou
explicar o que é), bandeirinha (também não rs) e outras mais. Andávamos
abraçados pelas aprazíveis ruas da minha cidade (a dos terrenos baldios com
lixo). Hoje seriamos chamados de boiolas, mas era um outro tempo, em que
amarrávamos cachorro com linguiça e menos malícia que hoje. Uma vez conheci seu
lado protetor. Um moleque tentou pegar minha cafifa. Ah, amigo, não prestou!
Ele veio em minha defesa e os dois rolaram no chão na rua chamada “de trás”.
Ele agarrado, batia na cabeça do coitado com uma lata, enquanto espremia a cara
dele numa cerca de arame farpado. Sinistro! Nunca mais esqueci essa imagem. Mas
o legal mesmo era quando ele ia dormir. Todos têm uma técnica, uma forma de
relaxar para dormir, hoje eu ouço música, alguns veem televisão, meu pai ouvia
rádio alto (coitada da minha mãe), a CBN e outros pensam em coisas agradáveis,
como um bonito jardim, cavalos cavalgando, ou flores, finalmente tem o que
tomam remédio mesmo (como Michael Jackson). Ele não, ele era um “pouco”
diferente. Sua preparação para relaxar era balançar a cabeça. Colocava uma das
mãos contornando o pescoço, passando por uma das orelhas, flexionando o
cotovelo, e ia então usando o braço flexionado como uma alavanca para ajudar a
balançar a “pequena” cabeça para esquerda e para direita, num movimento
contínuo e rápido. Devem estar pensando, doido! Estão enganados. Ele não
balançava a cabeça simplesmente como um doido, tinha todo um repertório
musical, no caso a imitação da banda de música da igreja, que tinha o sugestivo
nome de “furiosa”, e ele “tocava” os mais variados hinos da Harpa com a boca,
como “Os guerreiros se preparam...”, “Deus prometeu com certeza...”, “Nós
abrimos, este culto...”, etc com o som original dos instrumentos, tipo o som do
trombone, o som do saxofone, o som do pistom etc.. Não me lembro do som da tuba
e do bumbo, que seria o ápice. Hilário! Só vendo pra crer. No princípio
tínhamos medo, depois nos acostumamos. Era um maluco beleza.
Short Story IV - Pólvora do despacho
Short Story III - A Carretilha
Tinha cerca de 17, 18 anos. Vivíamos o tempo da ditadura, com o presidente dos cavalos, João Figueiredo. Era o zelador duma igreja e tinha um objetivo, ser o melhor zelador que aquela igreja já teve. Assim encerava os banheiros, que era de ladrilhos vermelhos; lavava o branco chão de cimento das minúsculas salas e as encerava com cera incolor; passava óleo de Peroba nos 70 bancos de imbuia; lavava a igreja, juntamente com meu amigo PB, eu era o RR, empilhando os 70 bancos nas paredes em pilhas de quatro etc. No fim fracassei e fui considerado um dos piores zeladores que a igreja já teve, eram muitas as reclamações. Também eram 700 pessoas sujando e somente eu limpando! Fazer o quê. Fui derrotado. Mas não é sobre isso que quero falar. Como toda boa igreja, ela vivia em obras e, na parte dos fundos, havia uma comprida corda, presa a uma carretilha, que era usada para levar os materiais de construção para o 3º andar. Eu, quando passei pela corda, tive uma brilhante ideia, ir me levantando, eu mesmo, na corda e ter uma visão privilegiada do cenário tão “bucólico”. Assim prendi meu pé no gancho que estava numa ponta da corda e fui me puxando na outra extremidade. Foi apenas uma fração de segundos, assim que meu pé descolocou do chão, meu tronco levantou o resto do corpo e eu me estatelei com as costas no chão. Foi um momento duplamente doloroso, uma pela dor nas costas em si e outra pelo ar que se recusava a entrar nos meus pulmões. O ar não vinha e eu já desesperado procurava de alguma maneira me colocar de pé, mas a dor era muita, e tentava fazer algo que fizesse com que esse precioso bem entrasse no meu organismo. Foi terrível, vi a morte, quando uma baforada de ar fresco conseguiu entrar.

Short Story II - O assalto
Trabalhava numa pequena empresa e os setores eram separados em dois andares diferentes, num ficava a tesouraria e a diretoria e no outro o DP e contabilidade (minha querida área que tem me dado muitas “alegrias” ao longo da minha vida). Um belo dia estava realizando minhas tarefas desafiadoras, interessantes e agradáveis na contabilidade. O tempo não passava (não sei por que) e resolvi dar uma pequena voada indo ao outro andar tomar um cafezinho. Até hoje não entendi porque fui impelido a ir àquele andar naquela hora, pois foi a primeira vez que fiz isso. Assim me despedi da galera, informei aonde iria e desci as escadas. A porta foi aberta e fui recebido com um cano de PVC de 100 mm na minha cara, na verdade parecia bem maior, era uma enorme arma. A empresa estava sendo assaltada e eu fui lá para não ficar de fora da festa. Passei 40 minutos com três meliantes armados que torturaram, fizeram chantagem psicológica, bateram, deram coronhadas e chutes, bem como tapas na cara e pontapés. Depois fui amarrado e amordaçado, juntamente com meus colegas de empresa, enfiado num minúsculo banheiro e trancados lá dentro. Foi o momento que vi a morte mais de perto.
Short Story I - O terraço
Tinha cerca de 9, 10 anos. Morava num sobrado, com dois andares, e o último andar era uma laje, totalmente aberta, sem nenhuma mureta de proteção. Era um bonito dia de sol, sem vento, e eu soltava minha cafifa nessa laje, no 3º andar. Nunca fui um bom soltador de cafifas ou qualquer outra brincadeira de criança, como pião, bola de gudes, bandeirinha, queimado, amarelinha ou garrafão etc (claro que muitos nunca ouviram falar dessas brincadeiras). Meu irmão acima de mim, não. Sempre foi muito, muito bom. Ele à vezes me usava para tirar bolinhas de gudes de outros garotos incautos e depois dividíamos o butim. Voltando ao 3º andar, “tentava” soltar minha cafifa e distraidamente ia andando para trás procurando um ventinho que a levantasse e nada! Tentava prá lá, prá cá e nada! Assim foi passando o tempo e, de costas, ia andando, andando, andando quando tropecei num tijolo “deixado” perdido no chão da laje e caí. Foi um grande tombo. Me estatelei no chão quente da laje e minha cabeça pendeu para fora da laje, e olhei para baixo do precipício, quase caindo de uma altura de 7 metros. Foi a primeira vez que recordo que Deus salvou a minha vida.
Assinar:
Postagens (Atom)